
Das Tendas de Abraão até os dias de hoje, o povo judeu é sobrevivente
Por Jorge Henrique de Freitas Pinho*
-
Prólogo – A Voz Ancestral do Espírito: O Xamanismo como Origem da Espiritualidade
Antes das religiões organizadas, antes dos livros sagrados, antes mesmo da linguagem escrita, o ser humano já pressentia o invisível. Essa intuição primitiva e poderosa — de que há algo maior, algo que atravessa a vida e a morte, algo que não se vê, mas se sente — é o sopro inaugural da espiritualidade através do Logos. E esse sopro, em todos os cantos da Terra, recebeu um nome comum: xamanismo.
O xamanismo não é uma religião institucional. É escuta. É sintonia com os ritmos da natureza, com os ciclos da vida, com as forças que sustentam o cosmos. O xamã — que ora, dança, canta, silencia — é, sobretudo, um mediador: entre o visível e o invisível, entre a tribo e o infinito, entre a dor do indivíduo e a cura do espírito.
Essa espiritualidade ancestral, ainda viva entre povos da floresta, dos desertos e das montanhas, ensina que a sabedoria não está no domínio, mas na harmonia. Não em convencer, mas em curar. Não em erigir templos, mas em perceber que a Terra inteira já é sagrada.
Entre os povos indígenas da Amazônia, por exemplo, há práticas que revelam um nível refinado de organização espiritual. Em muitas tribos, só se decide algo quando há unanimidade. Um único dissenso é sinal de que o espírito coletivo ainda não encontrou o ponto de equilíbrio. Esse princípio revela um valor profundo: o respeito à singularidade como parte viva da unidade. Onde o Ocidente via atraso, talvez houvesse ali um modelo ético mais maduro do que o da maioria das democracias modernas.
O xamanismo, por isso, não deve ser lido como estágio primitivo, mas como matriz. Uma matriz que acolhe e prepara a travessia da consciência mágica para a consciência ética; do encantamento à responsabilidade. Ele marca o momento em que o ser humano começa a perceber que sua alma está ligada à alma do mundo — e que ferir a Terra é ferir a si mesmo.
Como a Dorsal Mesoatlântica — cadeia de montanhas submersas que separa e une continentes — também sou feito de encontros e fricções. Carrego em mim o diálogo entre duas linhagens: por parte de mãe, a brasilidade mestiça, com raízes indígenas e portuguesas; por parte de pai, a ancestralidade lusitana, íntegra e silenciosa. Duas forças que não apenas coexistem, mas se desafiam e se fertilizam.
De um lado, o riso largo, a oralidade encantada, a criatividade que brota da terra viva. Do outro, a saudade que pensa, o silêncio que escreve, a palavra como legado. Às vezes, sou o sol que dança com as nuvens; outras, a bruma que contempla a linha do horizonte. Mas é nessa tensão — como nas placas tectônicas da alma — que se constrói meu ser: não como ruptura, mas como síntese.
Essa fusão simbólica de DNA e de almas me autoriza a escutar — e a reconhecer — na sabedoria ancestral dos Povos da Floresta algo que também me pertence. Pois não se trata apenas de falar sobre o xamanismo, mas de lembrar que ele vive, em parte, dentro de mim. Dentro de cada amazônida. Dentro de cada ser humano, qualquer que seja sua origem. Vive em nossa história. No sangue que pulsa entre cantos, orações, saudades e textos sagrados.
Todo edifício espiritual que se ergue com solidez precisa de um alicerce profundo. E talvez nenhum seja mais essencial do que aquele onde o espírito dançava com os animais, os rios e os astros — e onde a palavra ainda era silêncio carregado de sentido.
Se o xamanismo nos ensinou a ouvir o invisível — e a manifestá-lo por palavras encantadas — o judaísmo nos convida a criar a partir do invisível: com letras, leis e luz. Se a sabedoria ancestral era dançada em comunhão com os elementos da Terra, no universo hebraico ela é escrita, interpretada e transmitida como herança sagrada. A passagem do xamã ao escriba, do canto ao texto, da harmonia espontânea à ética rigorosa, não é ruptura: é continuidade. É a evolução da escuta em palavra, da intuição em interpretação, do encantamento em compromisso.
É nesse espírito de continuidade — e não de exclusão — que avançamos do sopro ancestral ao verbo sagrado, da floresta ao deserto, do canto à lei. E é a partir dessa escuta profunda que surge um povo que, ao longo dos séculos, aprendeu a transformar o sofrimento em sabedoria, e as ruínas em reconstrução: o povo judeu.
-
Introdução – A Alma Imortal do Povo Judeu que Sempre Transformou as Ruínas na Reconstrução de Algo Muito Maior
Há povos que fazem história com espadas, outros com rotas de comércio, impérios ou revoluções. Mas há um povo — pequeno em número e imenso em legado — que constrói civilização a partir de um livro. Um povo que, em vez de simplesmente conquistar territórios, almeja sua herança territorial e ancestral legítima, mas acima de tudo o faz pela lapidação da linguagem e pela busca incessante de seu maior tesouro: o conhecimento a serviço da Sabedoria.
Um povo que, em vez de impor dogmas, estuda. E que, em vez de se proteger em muralhas de pedra, habita as tendas da escuta.
Este povo é o povo judeu.
Perseguido, disperso, difamado e, ainda assim, inquebrantável, o povo judeu sobreviveu ao tempo não como uma nação firmada sobre geografia, mas como uma comunidade espiritual que, a cada desterro, erige uma nova pátria no coração e na mente. Antes mesmo do Templo, carregava consigo a Arca da Aliança — um santuário móvel da presença divina, lembrando que o sagrado habita onde há fidelidade ao pacto e pureza no caminhar. Diante da destruição do Templo, construiu a sinagoga. Diante do exílio, criou o estudo. Diante do silêncio, redescobriu a palavra. Em cada ruína, plantou a promessa de uma reconstrução ainda maior — não no campo da força, mas no mais elevado e duradouro de todos: o campo do espírito.
Essa fidelidade à palavra e à educação começa cedo. A primeira missão de um pai judeu é ensinar o filho a ler. A Torá é lida em voz alta, saboreada, questionada. O judeu não é aquele que repete, mas aquele que interpreta. O estudo não é uma atividade — é uma forma de oração. Aprender é escutar a voz de Deus nas entrelinhas do mundo. E escutar, para um judeu, é mais do que obedecer: é participar da criação contínua do mundo, porque a palavra que cria também recria, renova, redime.
Desde que me compreendo como um ser pensante — e essa consciência despertou em mim por volta dos treze anos, idade em que, na tradição judaica, o menino atravessa o umbral do Bar Mitzvá e passa a ser chamado homem, deixando para trás as coisas de menino — intuí, com uma clareza quase silenciosa, que o sentido maior da vida era aprender. Não nasci judeu, mas sempre senti que ali havia um espelho de algo que me habitava sem nome. No início, queria aprender tudo. O mundo me parecia um livro infinito, e cada página, uma urgência. Mas com o tempo compreendi que o verdadeiro aprendizado não se mede pelo acúmulo de saberes, e sim por sua capacidade de nos transformar. Que aprender, no mais alto sentido, não é decorar verdades, mas tornar-se verdadeiro. Não é conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo. O aprendizado que não nos faz melhores, mais compassivos, mais conscientes — é apenas ruído. Aprender, portanto, é um ato espiritual: é caminhar, passo a passo, rumo à realização da mais audaciosa promessa jamais feita ao ser humano — a de tornar-se imagem e semelhança de Deus.
Este ensaio é uma homenagem filosófica e espiritual à alma judaica como eixo civilizacional da humanidade. Mais do que narrar a história de um povo, buscamos compreender o que esse povo representa: uma alma ferida e escolhida — não por sua superioridade, mas justamente por sua necessidade de correção. E é precisamente por isso que lhe foi confiada a luz. Uma luz não como dom, mas como dever. Não como glória, mas como reparação.
Aqui, seguiremos o fio invisível que conecta Abraão à modernidade, a Cabala à ciência, os profetas ao verbo de João, a tenda de Sara ao templo interior do ser. E nesse percurso, o nome de Deus será menos um dogma e mais uma escuta. Menos uma definição, mais uma presença.
2.1. A Cabala Judaica como Linguagem da Criação e Reconstrução
A palavra “Cabala” (קַבָּלָה, Kabbalah) significa, literalmente, recebimento. Receber aqui não é passividade, mas escuta ativa de um saber que transcende o tempo e se transmite de alma para alma, de geração em geração. A Cabala Judaica foi, antes de tudo, e ainda continua sendo, nos círculos mais fechados, uma tradição oral: no passado era preciso ser homem, ter mais de 40 anos, e principalmente ser escolhido por um mestre. Um antigo aforismo teosófico afirma: “quando o discípulo está pronto, o mestre aparece.”
Na atualidade, entendo que esse mestre já não é mais uma única pessoa de carne e osso propriamente, mas o conhecimento que podemos recolher de tantos livros, palestras e pessoas sagradas que com seu conhecimento profundo disseminam pérolas de sabedoria como as flores deixam escapar o seu perfume encantando a todos que por elas passam…
Por outro lado, a Astrologia também está presente na Cabala — não a dos jornais, mas uma mais profunda, que trata de como os astros influenciam as energias, não para nos imprimir medo, mas para nos tornar mais atentos ao tipo de vibração propensa em determinado período. Situações como Mercúrio retrógrado impõem mais cuidado na comunicação, e assim por diante.
Reza a tradição cabalística que, com a chegada da Era de Aquário, está permitido o ensinamento aberto da Cabala a toda a humanidade. É por conta desse fato que construo este artigo não apenas como um relato, mas como uma verdadeira iniciação — a judeus e não judeus — nas fantásticas lições que tenho recebido desde meus trinta e oito anos, quando aprofundei meu caminho nessa jornada, da qual eu já fazia parte mesmo sem ter consciência disso.
A Cabala, portanto, na minha humilde opinião e salvo melhor juízo, é a forma mais elevada da filosofia mística judaica, que busca explicar não o que Deus é — mas como o infinito se manifesta no mundo finito, e como o ser humano pode participar desse mistério criador.
Seu ponto de partida é o conceito de Ein Sof — o “Infinito sem fim”, a realidade absoluta que não pode ser nomeada, pensada, nem representada, pois ultrapassa qualquer definição. Dele, emana uma Luz Infinita (Ohr Ein Sof) que, para criar o mundo, realiza um ato radical: o Tzimtzum, a retração. Deus se contrai para abrir um espaço vazio — o espaço onde a criação é possível. Aqui está o primeiro ensinamento: a liberdade começa quando até Deus recua para que o outro exista.
No vazio criado por esse gesto cósmico, a Luz penetra por meio de dez emanações chamadas Sefirot. Cada uma representa um aspecto da divindade e também um caminho para a alma humana. Elas são como espelhos do ser e da ética, mapas da interioridade e da história. As Sefirot são divididas entre luz (Ohr) e recipientes (Kelim): quando os recipientes se rompem (Shevirat haKelim), o mundo entra em crise, e nossa missão se torna clara: reparar a luz fragmentada — esse é o Tikun Olam.
A Cabala é um sistema simbólico e multifacetado que se estrutura a partir de diversos pilares, cada um deles oferecendo não apenas um conhecimento teórico, mas uma via prática de transformação interior e de reconexão com o divino.
2.2. Entre Letras e Luzes: Uma Síntese Dialógica e Filosófica da Alma Judaica
A filosofia, quando atinge sua maturidade, não se contenta com conceitos: ela escuta. E escutar é a mais espiritual das inteligências. A Cabala, nesse sentido, não é um sistema místico em oposição à razão — é a razão que se purificou a ponto de alcançar o silêncio onde Deus sussurra.
Este ensaio, por isso, não pretende demonstrar: pretende revelar. Revelar o que a letra esconde, o que o símbolo guarda e o que a alma anseia reencontrar.
A Guematria nos ensinou que números também falam. Que “Pai + Mãe = Filho” é mais do que uma conta — é uma cosmogonia. Que Amor e Unidade são expressões equivalentes. E que o Nome de Deus, YHVH, só se manifesta onde há reciprocidade, fusão de opostos e superação do ego.
O Pardes, com seus quatro níveis de interpretação da Torá, mostrou que não há verdade absoluta sem profundidade. A aparência literal (Peshat) não basta. É preciso entrar na alusão (Remez), mergulhar na busca ética (Derash) e, enfim, tocar o indizível (Sod). O saber é uma escada. E toda escada que sobe começa por reconhecer que há mais a ser visto.
A Astrologia Cabalística, quando corretamente compreendida, não aprisiona em signos, mas liberta para a compreensão do tempo como kairos — tempo oportuno. Saber em que energia estamos não prevê o destino: revela o tempo interior da alma diante do cosmos: o sábio não controla os ventos, mas ajusta as velas.
A Árvore da Vida, com suas Sefirot, é uma radiografia simbólica do divino e do humano. Não há atributo de Deus que não esteja latente em nós: a vontade, a sabedoria, o rigor, a misericórdia, a beleza, a persistência, o reconhecimento da glória, a base da ação e, por fim, a realeza da presença. Tudo que somos é um convite à harmonia dessas forças em nós.
A Cabala Prática nos advertiu: o saber que não se traduz em vida, não é sabedoria. Os nomes divinos, as letras sagradas, os selos e permutações — tudo isso é poderoso na medida em que está a serviço da reparação do mundo, e não do ego. Por isso, sua prática exige pureza interior.
Os Textos Sagrados não nos contaram uma história: desenharam um mapa da alma. O Sefer Yetzirá revelou a criação pelo som e pela forma. O Bahir sugeriu que há luz antes mesmo da criação. O Zohar nos fez ver o mundo como narrativa divina, onde tudo é símbolo. E o Etz Chaim nos lembrou que o mal nasce da quebra — e o bem, da reparação.
Mas o ápice de toda essa jornada se encontra na alma.
A alma humana, segundo a Cabala, é composta por cinco níveis que se desdobram como um rio em direção à Fonte:
- Nefesh: a alma vital, ligada ao corpo e ao instinto.
- Ruach: a alma emocional e moral, onde se trava o combate entre bem e mal.
- Neshamá: a alma intelectual e espiritual, que busca compreender o divino.
- Chaya: a vida divina em nós, raramente acessada.
- Yehidá: o ponto de unidade absoluta com Deus, a centelha indestrutível.
Cada oração, estudo, ato ético ou gesto de bondade é um degrau nessa ascensão. E essa escada é movida por um só motor: o Amor.
Na Cabala, o amor não é um sentimento — é uma força estrutural do cosmos. É o que une o Rei à Matrona (Tiféret e Malchut), o Céu à Terra, o Eu ao Outro. Amar é reintegrar. E quem ama de verdade, recria o mundo.
E talvez por isso, mesmo os que nunca ouviram falar da Cabala a vivem sem saber. A brincadeira da amarelinha — com seus degraus em direção ao céu — ecoa a Árvore da Vida. As mandalas, as construções sagradas, as sagas heroicas — tudo carrega o rastro de um conhecimento ancestral.
A Cabala está na pele simbólica do mundo. O universo é um texto — e a alma, seu leitor.
Este ensaio, portanto, não é apenas uma exposição racional. É um convite à reconciliação.
Entre o saber e o sentir. Entre o humano e o divino. Entre os fragmentos dispersos da criação. Entre você e o outro.
Pois reconstruir o mundo é, antes de tudo, reacender a centelha divina em nós — e no próximo.
E como ensina o Zohar: “Assim como Deus criou o mundo com palavras, o justo recria o mundo com suas ações.”
-
O Patriarca e o Arquétipo: Abraão como Raiz das Três Grandes Fés
Antes que houvesse religiões institucionalizadas, havia apenas a escuta. E antes da escuta, o silêncio. É nesse limiar entre o silêncio do mundo e a palavra que se faz ouvir no íntimo da alma que surge Abraão — não como um dogmático, mas como um desperto. A tradição o reconhece como o primeiro a intuir a Unidade por trás da multiplicidade do mundo. E é nesse gesto inaugural que se estabelece a raiz da espiritualidade ocidental: a fé que nasce do encontro entre o homem e o mistério.
Abraão não funda uma religião. Ele inaugura uma relação. E essa relação tem como base a escuta. O chamado de Deus — “Lech Lechá”, “vai para ti” — não é um comando exterior, mas um convite interior: conhecer-se para conhecer o Infinito. A Cabala lerá esse chamado como uma movimentação interna entre os mundos espirituais — do mundo de Assiyá (ação) rumo a Beriá (criação) — e entre as sefirot da estrutura da alma, do fundamento (Yesod) à beleza (Tiféret), onde a presença divina começa a ser refletida pela consciência desperta.
É a partir dessa escuta que se estrutura o paradoxo de Abraão: ele é pai de uma promessa de unidade, mas essa promessa se desdobra em múltiplas linhagens, muitas vezes em tensão. Isaac e Ismael. Jacó e Esaú. Judeus, cristãos e muçulmanos. A unidade original se fragmenta — como os vasos na doutrina do Shevirat haKelim — e as faíscas da luz precisam ser recolhidas ao longo da história. A herança de Abraão, portanto, não é apenas genealógica, mas simbólica. Ele é arquétipo do buscador, e seus “filhos” espirituais são todos aqueles que ousam deixar a terra da mesmice para entrar no desconhecido da fé verdadeira.
A tenda de Abraão, aberta em todos os lados, é mais do que uma figura de hospitalidade. É a encarnação de Hesed, a bondade amorosa que permeia a primeira coluna das sefirot. Na arquitetura da Árvore da Vida, Hesed é o braço direito de Deus, o gesto que acolhe sem exigir, que oferece sem cobrar. Cada pessoa que entrava na tenda de Abraão era tratada com honra, alimentada com generosidade, e só depois apresentada à ideia de um Deus único. A escuta vinha antes da doutrina. O cuidado antes da crença.
Essa tenda, filosoficamente, é a antecipação de uma ética da alteridade. Emmanuel Levinas, dialogando com o pensamento judaico, afirmou que o rosto do outro é o lugar onde Deus se revela. Abraão, ao abrir sua casa, antecipa o gesto da abertura ontológica: reconhecer no outro uma centelha do divino. Sua tenda é uma epifania silenciosa da Unidade no múltiplo, do Um que se expressa através do dois, do três, do infinito.
Se há uma raiz comum às três grandes tradições monoteístas — judaísmo, cristianismo e islamismo — ela está plantada nesse solo invisível onde o acolhimento é mais forte que a fronteira. A Cabala nos ensina que o verdadeiro caminho espiritual começa não na torre da certeza, mas na tenda da escuta. E Abraão, ao habitar essa tenda, não apenas hospeda homens: hospeda a própria possibilidade de uma humanidade reconciliada com seu Criador.
Por isso, ao voltarmos a Abraão, não buscamos apenas um personagem bíblico. Buscamos um espelho. Um chamado. E talvez uma resposta.
-
O Judaísmo como Estrutura Ética e Dinâmica
Mais do que um corpo de leis ou um conjunto de crenças, o judaísmo é uma arquitetura viva da consciência. Ele não se estrutura como um sistema fechado, mas como um organismo em constante debate — onde a fidelidade à Torá não exclui o movimento do pensamento, e onde a tradição é continuamente renovada pelo diálogo. Ao contrário do que muitos imaginam, não existe uma única voz no judaísmo: há escolas, há discordâncias, há gerações inteiras que se reúnem em torno da Palavra não para repetir, mas para interpretá-la. É por isso que o judaísmo não é apenas uma religião: é uma ética em estado de tensão criadora.
As diversas correntes rabínicas — desde os fariseus e saduceus da antiguidade até os debates contemporâneos entre ortodoxos, conservadores e reformistas — revelam a alma plural da tradição. No Talmude, é possível encontrar duas opiniões antagônicas lado a lado, ambas registradas com respeito, porque se reconhece que o sagrado se revela também na controvérsia. A busca pela verdade, no judaísmo, não é linear. É dialética. E é essa dialética que preserva o essencial: o eixo ético inegociável.
No centro desse eixo está a frase que ressoa como coluna vertebral de toda a moral judaica: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Lv 19:18). Essa máxima, que Cristo mais tarde reiterará como síntese da Lei e dos Profetas, não é um mero preceito moral. É uma estrutura ontológica. Para a tradição judaica, amar o outro como a si mesmo não significa apenas tratar o outro com empatia — significa reconhecer no outro uma extensão de si, porque todos somos imagens do Uno. O “próximo” é aquele que nos revela quem somos, e a ética é, no fundo, uma metafísica da unidade.
A Cabala aprofunda esse ensinamento ao nos oferecer um mapa simbólico das forças que sustentam o cosmos — e também a alma humana. Na Árvore da Vida, duas forças se opõem e se complementam: Chesed (misericórdia, amor expansivo) e Guevurá (rigor, contenção, justiça). Se há apenas misericórdia, tudo se dissolve no caos da permissividade. Se há apenas rigor, tudo se enrijece na tirania da forma. O equilíbrio só é possível por meio de Tiféret — a beleza que nasce da harmonia entre amor e justiça, entre acolhimento e limite.
Essa tríade não é apenas um diagrama espiritual. É um modelo para a vida. Um pai que ama sem educar perde o filho para o capricho. Um juiz que pune sem escutar perde o caminho da justiça. Um povo que perdoa sem critério trai os justos. O judaísmo, com sua sabedoria milenar, compreende que a ética verdadeira não está nem na indulgência total nem na severidade absoluta. Ela floresce no espaço do equilíbrio, onde o coração e a razão se encontram sob a luz da consciência.
E é por isso que o judaísmo, mesmo atravessado por exílios, perseguições e contradições internas, permanece de pé. Porque sua base não é uma rigidez dogmática, mas uma dinâmica viva. Uma tensão entre tradição e atualização, entre fidelidade e transformação. A lei judaica (Halachá), cujo nome vem da raiz halach, “caminhar”, já indica que o que importa não é apenas a norma, mas o modo como ela nos move. Caminhar com Deus é também caminhar com o outro. E isso exige escuta, humildade e coragem.
O judaísmo, assim, nos ensina que a ética não é algo que se impõe de fora. É uma estrutura que se constrói por dentro. E quando essa estrutura se alinha com o cosmos — quando Chesed (misericórdia) e Guevurá (rigor) se encontram em Tiféret (beleza e harmonia) — então não apenas o mundo se torna mais justo, mas o ser humano se torna mais inteiro.
Essa visão interior da ética encontra eco no coração da filosofia moral de Kant. O imperativo categórico — “age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal” — não exige obediência a normas externas, mas apela à razão prática interior. O dever, para Kant, não deriva da autoridade, mas da autonomia. A moralidade é legítima precisamente porque brota de dentro, de uma consciência que reconhece, por si mesma, o valor universal da ação justa.
Na Cabala, essa interioridade ética é expressa pelo equilíbrio entre forças complementares: Chesed sem Guevurá é excesso; Guevurá sem Chesed é tirania. O justo não é o que segue regras cegamente, mas o que encontra, no centro da alma, o ponto de equilíbrio entre amor e justiça — que é Tiféret. Em termos kantianos, é como dizer que a boa vontade não é movida por inclinações ou conveniências, mas por um princípio que vale por si mesmo.
Assim, a Cabala e Kant, cada um à sua maneira, ensinam que a verdadeira ética não é heterônoma, mas autônoma. Não é a imposição de uma norma, mas o florescimento de uma consciência. Não é submissão a uma autoridade externa, mas escuta a uma lei que habita o coração — e que ressoa, paradoxalmente, com a harmonia do cosmos.
-
A Transgressão e o Verbo – Quando o Humano Começa a Ser Divino
A narrativa do Éden, para além de suas leituras morais ou dogmáticas, é talvez o primeiro grande exercício de ficção da humanidade — e, ao mesmo tempo, sua mais profunda alegoria ontológica. Eva, ao dialogar com a serpente, dá início não apenas à queda, mas à consciência. Não é por acaso que, no relato bíblico, ela conta o ocorrido com suas próprias palavras: “a serpente me enganou, e eu comi.” É o início do discurso, da narrativa, da construção simbólica da realidade. É, enfim, o nascimento do humano como ser que interpreta — e que, por interpretar, participa da criação.
Se as palavras são o espelho do ser, então a capacidade de criar narrativas e ficções não é apenas um traço humano — é o que nos tornou humanos. Como bem aponta Yuval Harari, é essa habilidade de contar histórias — inclusive aquelas que não existem materialmente — que nos permitiu construir mitos, sistemas jurídicos, religiões, economias e nações. O Homo sapiens tornou-se Homo narrans — e, mais adiante, como ele mesmo desenvolverá em Homo Deus, o humano passará a desejar não apenas narrar o mundo, mas recriá-lo. Não apenas interpretar a realidade, mas transcendê-la. Tornar-se, ele mesmo, um deus — um Homo Deus.
Nesse sentido, o fruto proibido foi a primeira narrativa. A primeira ficção. O saber não apenas sobre o bem e o mal, mas sobre o próprio ato de saber. Comer do fruto foi a entrada na linguagem, na abstração, na consciência do tempo e da morte. Se antes éramos apenas um com o mundo, agora nos tornamos seres que nomeiam, narram, reinterpretam. Isso nos deu o poder da criação — mas também o peso da angústia.
O gesto de Eva não é apenas uma desobediência: é uma ruptura necessária para o surgimento da liberdade, da linguagem, da responsabilidade moral. A serpente, arquétipo da tentação, é também símbolo da dialética: ela propõe, ela inverte, ela desafia. E ao fazê-lo, revela a potência da consciência.
A Cabala vê esse episódio não como um erro original, mas como parte de um movimento necessário à revelação do humano. A criação, para ser completa, precisava da quebra — do rompimento que possibilita a reconstrução. Assim como no conceito de Shevirat haKelim (a quebra dos vasos), a luz só se manifesta plenamente quando encontra a fissura, a imperfeição. A transgressão, nesse sentido, não é mera falha: é parte do projeto divino.
É o que permite a emergência de Da’at — a sefirá oculta da consciência, situada entre Chokhmah (sabedoria) e Biná (entendimento). Ela não aparece na Árvore da Vida como uma esfera visível e fixa, mas se manifesta quando o ser humano acessa a verdade não pela repetição, mas pela experiência — especialmente a experiência do limite.
Essa perspectiva ganha ainda mais densidade quando encontramos sua ressonância no cristianismo: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus” (João 1:1). Aqui, o Logos (Verbo) não é apenas o início da criação — é a própria divindade encarnada na linguagem. A palavra não é apenas instrumento; é origem. E quando o ser humano começa a nomear, interpretar, narrar, ele toca essa centelha criadora. Ele começa a ser divino.
No Sefer Yetzirá, uma das obras fundacionais da Cabala, encontramos essa mesma visão estruturada em linguagem arquetípica: o mundo é criado por meio das 22 letras hebraicas e dos 10 Sefirot. O universo, portanto, é um código. E a alma humana, ao decifrá-lo, ao brincar com suas combinações, ao enunciar o mundo com reverência, torna-se coautora da existência. Criação e linguagem se fundem em um só gesto sagrado.
Essa visão se entrelaça com a antiga sabedoria de Hermes Trismegisto, que nos ensina: “O Todo é Mente; o Universo é Mental.” Segundo o Princípio do Mentalismo, tudo que existe antes de ser visível é pensamento. Antes de ser matéria, é vibração. Antes de tomar forma, é ideia. O universo, portanto, é uma projeção da Mente Divina — e a mente humana, ao acessar esse campo, ao pensar com profundidade, ao falar com intenção, torna-se espelho e extensão da Mente que tudo criou.
O Éden, assim, pode ser reinterpretado hermeticamente: não como um lugar, mas como um estado de unidade inconsciente com o Todo. A transgressão é o despertar da individualidade, da percepção, do tempo. Ao sair do Éden, o ser humano entra na história — e nela, aprende a recriar. O que chamamos de “queda” talvez seja, na verdade, uma elevação. A dor do saber é o preço da liberdade. E a palavra — o Verbo — é o fio com que tecemos o manto da realidade.
É nesse ponto que a contribuição de Nilton Bonder se torna crucial. Em A Alma Imoral, ele nos lembra que a alma não é obediente — é transgressora. Que a moral fixa é função do corpo, mas a alma é movimento, deslocamento, abertura. A verdadeira fidelidade, paradoxalmente, exige infidelidade à forma estagnada. É quando rompemos com a letra morta que resgatamos o espírito vivo. Assim como Eva rompe o interdito para acender a consciência, cada ser humano é chamado a ultrapassar os muros da normatividade para reencontrar, em outro plano, a aliança com o sagrado.
Transgredir, portanto, não é destruir. É reconfigurar. É ousar a travessia que transforma o interdito em revelação. E se, como ensina a Cabala, Tikun Olam — a reparação do mundo — é a missão do ser humano, essa missão começa quando aceitamos que as rachaduras fazem parte do plano. O Verbo cria, mas é a consciência que redime.
Assim, Eva não é apenas a mãe de todos os viventes. É a precursora da escuta, da dúvida e da palavra. A serpente, por sua vez, não é só a vilã: é o espelho da ambiguidade que nos habita. E o Éden perdido não é um castigo — é o ponto de partida de um retorno muito mais profundo, porque agora consciente, livre e capaz de amar.
-
A Tensão Fraterna como Arquétipo: Da Torá aos Bois de Parintins
As primeiras tensões da humanidade não foram entre estranhos, mas entre irmãos. É na intimidade do vínculo que a sombra se revela com mais força. A rivalidade fraterna é uma das linhas narrativas mais recorrentes da Torá — e talvez uma das mais universais da condição humana. Porque é entre iguais que o espelho brilha com mais clareza — e também com mais dor.
6.1 – Conflitos Bíblicos entre Irmãos
Caim e Abel. Esaú e Jacó. José e seus irmãos. O filho pródigo e o irmão que permanece. Cada uma dessas histórias expressa, com força simbólica, a dificuldade humana em lidar com o dom do outro. Caim mata Abel não porque este o atacou, mas porque sua oferenda foi aceita. O ressentimento nasce não da injustiça externa, mas da angústia de não se sentir à altura do espelho espiritual que o outro representa.
Jacó, ainda no ventre, disputa com Esaú. José é vendido por seus irmãos não por ser mau, mas por ter sonhos. O filho que fica não consegue se alegrar com o retorno do irmão, porque sua fidelidade foi silenciosa e não celebrada. Em todos esses casos, o arquétipo se repete: o irmão é visto como ameaça, não como extensão. A bênção do outro parece retirar algo de mim, quando na verdade apenas revela algo que me falta.
6.2 – A Inveja Espiritual e a História das Perseguições
Essa dinâmica íntima, familiar e trágica, expande-se na história das nações. O povo judeu, em sua longa travessia, foi perseguido não apenas por razões políticas ou territoriais — mas por carregar um espelho incômodo: o da fidelidade ao sagrado, o da palavra preservada, o da resistência silenciosa. Como aponta Nilton Bonder em A Cabala da Inveja, a inveja espiritual é a mais perigosa de todas, porque ela não quer apenas possuir o que o outro tem — quer apagar o outro para que sua luz não me confronte mais.
A Cabala ensina que essa dinâmica está ligada à Klipá — a casca, o invólucro do ego que impede a luz interior de se manifestar. A Klipá não é o mal absoluto, mas a separação, a contração, o fechamento em si. Quando vejo no outro uma ameaça e não uma possibilidade, é a Klipá que me cega. Quando a luz do irmão me incomoda, é porque minha própria centelha está sufocada. O antijudaísmo, sob essa lente, é menos ódio ao que o judeu faz — e mais medo do que ele representa: um espelho de aliança com o Eterno que interpela até o mais secular dos olhares.
6.3 – Os Cismas da Humanidade
Essa tensão fraterna não ficou restrita à Torá, nem ao povo judeu. Ela se manifesta em todos os grandes cismas da humanidade. O cristianismo se separa em ortodoxos e católicos, os católicos em protestantes, os protestantes em incontáveis denominações. O islamismo, igualmente, se divide entre sunitas e xiitas — e os conflitos sangrentos não são entre infiéis, mas entre “irmãos” de fé.
O Oriente não escapa: na Índia, tensões entre hindus e muçulmanos; na China, perseguições internas a grupos como os uigures ou a linhagem de Confúcio. A divisão, o cisma e a fragmentação não são aberrações modernas — são o padrão repetido da história humana.
E não apenas em religiões ou ideologias: torcidas organizadas, partidos políticos, redes sociais polarizadas, bois Garantido e Caprichoso. Em Parintins, o espetáculo da disputa colorida esconde um ensinamento precioso: por trás da rivalidade folclórica está a sabedoria de que um boi precisa do outro para existir. O Garantido precisa do Caprichoso para dançar. Sem o outro, não há espetáculo. Só resta barbárie.
O desafio da humanidade — e da espiritualidade verdadeira — é reconhecer que a sombra do irmão é minha também. Que a luz do outro não me diminui, mas me completa. Que o propósito não é vencer, mas reconciliar. A verdadeira beleza (Tiféret) nasce quando a misericórdia (Chesed) e o rigor (Gevurá) se equilibram. Quando deixamos de temer a diferença e passamos a vê-la como parte do todo.
Porque somos — todos — filhos do mesmo mistério. Irmãos em conflito, sim. Mas irmãos chamados à redenção.
6.4 – Ismael e Isaac: O Cisma Original e a Herança Mal Partilhada
A narrativa de Ismael e Isaac não é apenas um episódio bíblico — é um arquétipo profundo que marca, até hoje, a história do Oriente Médio. Ismael, filho primogênito de Abraão com a serva Agar, e Isaac, filho da promessa nascido de Sara, esposa legítima, são figuras que carregam em si o potencial da reconciliação — e, ao mesmo tempo, o risco da cisão.
O texto sagrado (Gênesis 17:19-21) é claro ao estabelecer que a aliança eterna será feita com Isaac, embora Ismael também receba bênçãos de fecundidade e multiplicação. A tradição judaica e cristã reconhece Isaac como herdeiro espiritual da promessa, enquanto o Islã reivindica em Ismael sua linhagem sagrada — ancestral do profeta Maomé. A partir daí, duas heranças sagradas caminham em paralelo, ora em tensão, ora em aliança tênue.
Essa divisão, porém, não deve ser lida apenas como exclusão — mas como um alerta eterno sobre os perigos das sucessões mal conduzidas: quando a bênção é entendida como posse exclusiva, e não como responsabilidade compartilhada.
Na Cabala, essa ruptura ecoa o conceito de Shevirat haKelim, a quebra dos vasos — quando a luz, ao não encontrar estrutura para contê-la, se fragmenta. E é exatamente o que parece ocorrer entre os filhos de Abraão: uma luz comum que se parte em ressentimento, em disputa por legitimidade, em narrativas que competem quando poderiam dialogar.
Talvez não tenha faltado fé, mas previsão. O gesto de Abraão de despedir Agar e Ismael, ainda que sob ordem divina, carrega o peso simbólico de uma herança emocional mal resolvida, cujos ecos ressoam até hoje nos corredores da história e nos campos de batalha.
6.5 – Heranças Reais e Alegóricas: O Exemplo Pessoal como Contraponto Ético
Esse dilema milenar ressoa nas famílias atuais. Ao longo da vida, vi muitos dramas humanos nascerem não do ódio declarado, mas da dor silenciosa de uma herança mal partilhada. Filhos desunidos, irmãos em litígio, famílias destruídas por falta de um gesto de equidade — tudo isso repete, em menor escala, o drama arquetípico de Ismael e Isaac, de Jacó e Esaú, de José e seus irmãos.
No meu caso, a história foi outra. Meu pai — homem íntegro, sem tronos nem exércitos — soube, ao lado de minha mãe, planejar uma sucessão não apenas patrimonial, mas sobretudo afetiva. Com sabedoria, justiça e amor, ele assegurou que seus filhos — no Brasil e em Portugal — herdassem não apenas bens, mas vínculos. E é por isso que hoje, eu e meus irmãos, podemos celebrar juntos, em Angeja, a paz que só a previsibilidade amorosa é capaz de legar.
Essa experiência me faz ver com ainda mais nitidez que a reconciliação entre irmãos é sempre possível — desde que precedida por escuta, por justiça e por uma hospitalidade real.
6.6 – A Tenda Aberta e a Mesa de Abraão: De Adversários a Herdeiros
Ao final, voltamos ao gesto fundador de Abraão: ele não constrói muros — abre tendas. Não forma exércitos — prepara mesas.
Receber três viajantes em sua tenda, na tradição judaica, é receber a presença divina. E talvez seja esse o maior ensinamento para os filhos espirituais de Abraão — judeus, cristãos e muçulmanos: que a presença de Deus só se manifesta onde há espaço para o outro.
A Amazônia, com sua sabedoria ancestral, ensina o mesmo. Aqui, hospitalidade não é ornamento — é estratégia de sobrevivência. Todo novo rosto é visto como promessa. O sangue que chega, como bênção. E é por isso que acredito que o futuro da convivência entre os filhos de Abraão está menos na política e mais na espiritualidade da escuta.
Porque não se trata de ceder território — mas de reconhecer a dignidade do outro como filho da mesma promessa.
Que possamos, todos, sentar à mesa — e lembrar que Abraão não fundou um império, mas um modo de acolher.
-
A Escolha dos Que Precisam Aprender: A Humildade dos Sábios de Israel
Muitos se incomodam com a ideia de que os judeus seriam o “povo escolhido”. Reagem com desconfiança, como se essa expressão implicasse arrogância ou pretensão de superioridade. Mas os sábios de Israel, quando interrogados sobre essa escolha, respondem com espantosa humildade: “Deus nos escolheu não porque somos os melhores, mas talvez porque somos os que mais precisam aprender.”
Ser escolhido, nesse contexto, não é um troféu — é uma missão. Não é uma coroa — é um fardo sagrado. O povo judeu não foi eleito para dominar, mas para testemunhar. Para ser luz, mesmo quando o mundo deseja escuridão. Para carregar o peso da memória, da responsabilidade e da aliança, mesmo quando isso implica dor, dispersão, silêncio e sangue. Ser o povo do livro é, antes de tudo, ser o povo do aprendizado infinito.
Na Cabala, essa postura encontra seu reflexo na Sefirá Hod — que se traduz como esplendor, mas cuja essência é a humildade interior. Hod é a força de quem reconhece seus limites e, por isso mesmo, se abre à transcendência. É a coragem de quem sabe que não sabe — e por isso permanece buscando. É a base silenciosa da permanência.
Hod sustenta a perenidade de Israel como um povo que nunca deixou de estudar. Mesmo nos guetos, mesmo nos campos de concentração, mesmo nos exílios mais longínquos, um judeu seguia estudando, repetindo, debatendo, comentando. A Torá não era apenas lida — era revivida. Cada geração colocava sua voz no mesmo fio da tradição, como quem costura uma tapeçaria eterna. E cada pergunta feita em voz alta era uma oração.
Essa pedagogia da lapidação — na qual não se busca a perfeição, mas o aperfeiçoamento — é a verdadeira sabedoria de Israel. Um povo que sabe que errará, mas que erra com consciência e volta a si. Um povo que se permite ser moldado, como o barro nas mãos do oleiro, por meio da escuta, do estudo, da palavra.
A Cabala também nos ensina que as maiores luzes estão ocultas nas maiores quebras. A Shevirat haKelim, a quebra dos vasos, não foi um erro — foi um prelúdio à reparação. O povo judeu, por gerações, viveu tantas quebras quanto nenhuma outra nação. Mas, como os vasos da Cabala, guardou em cada estilhaço uma centelha de luz. Por isso mesmo, esse povo não apenas sobreviveu: ele permaneceu. E mais do que isso — ele ensinou.
No fundo, talvez o mais belo de ser o “povo escolhido” seja saber que essa escolha é, também, uma convocação universal. O que se espera do povo judeu — compromisso, fidelidade, busca da verdade — é o que se espera, em última instância, de toda a humanidade. Israel é o primeiro discípulo de uma lição que deve se tornar universal: a de que a sabedoria é o caminho da paz, e a humildade, o começo da luz.
-
O DNA Judaico da Liberdade e da Criação
Entre todas as narrativas que tentam explicar a origem do mundo, poucas são tão ousadas quanto a da Cabala: Deus, ao criar o universo, se retira. Esse gesto, chamado Tzimtzum, não é ausência — é amor. Não é abandono — é liberdade. Deus contrai sua luz infinita para que o outro possa existir. O infinito se esconde para que o finito possa surgir. Esse é o primeiro e mais radical ato de liberdade da história — e também o primeiro ensinamento ético: criar é abrir espaço.
A partir daí, a liberdade deixa de ser um acidente da história ou uma conquista política. Ela passa a ser um traço divino no ser humano. A Cabala afirma: fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que isso significa? Significa que, assim como Deus cria mundos com a palavra, também nós criamos realidades com nossa fala, nossas escolhas, nossas ações. O DNA do humano carrega o código da criação — e com ele, a responsabilidade de não apenas existir, mas reparar o mundo.
Esse é o coração do conceito de Tikun Olam — a missão de cada ser humano em restaurar o equilíbrio rompido da criação. Tikun não é um ideal abstrato, mas uma prática cotidiana: estudar, escutar, perdoar, ensinar, cultivar, transformar. Cada pequena ação em direção à luz, mesmo em meio ao caos, é uma emanação do divino no mundo. Não é por acaso que o povo judeu, mesmo em meio aos maiores sofrimentos, jamais abandonou o estudo. O conhecimento, para eles, é mais do que ferramenta — é vocação espiritual.
Esse impulso criador se manifesta também nas áreas mais inesperadas. O judaísmo não teme o progresso — ele o inspira. A ciência, a arte, a tecnologia, a ética — todas essas dimensões do humano, quando fundadas na busca pela verdade e pelo bem, são formas de espiritualidade em ação. Não é à toa que tantos judeus se destacaram nesses campos: Einstein na física, Freud na psicologia, Spinoza na filosofia, Chagall na pintura, Kafka na literatura. Cada um, à sua maneira, continuou a tradição de escutar o universo e nomear o invisível.
E essa herança não é exclusiva dos judeus — ela é transmissível. O que chamamos de “civilização judaico-cristã” é, no fundo, uma herança do Tikun: a noção de que o mundo é imperfeito, mas pode ser curado. De que a história não está pronta, mas aberta. De que o ser humano não é um fardo, mas uma centelha. Essa visão se enraíza no espírito hebraico e floresce em toda alma que escolhe viver com consciência.
No fim, o Tzimtzum nos ensina que amar é ceder espaço. E criar é permitir que o outro floresça. Quando Deus se retraiu, nos concedeu mais do que a existência — nos deu a chance de participar da obra. Por isso, cada ato de bondade, cada busca sincera por sabedoria, cada gesto de escuta profunda, é uma forma de continuar a criação.
Somos livres porque fomos chamados a criar. E criamos, não para nos exaltar, mas para restaurar. A centelha que nos habita é herança divina. E o Tikun, nosso chamado mais alto.
-
O Luto, a Luz e a Ética do Recomeço
Em um mundo cada vez mais marcado pela pressa, pela superficialidade e pela negação do sofrimento, há algo no espírito judaico que permanece insubmisso ao esquecimento. Não se trata de idolatrar a dor, mas de reconhecê-la como matéria-prima da reconstrução. O povo judeu, em sua trajetória existencial, demonstrou que é possível atravessar o luto — e, das cinzas, reacender a luz. Não uma luz ingênua, mas aquela que nasce do verbo ferido, do corpo em prantos, da alma que escolhe não desistir.
No artigo Do Luto à Luz, essa experiência foi retratada não como uma abstração filosófica, mas como vivência existencial: a travessia íntima de quem, diante do colapso, decide não quebrar junto com o mundo. Trata-se de uma ética do recomeço. Uma fidelidade à vida mesmo quando ela parece ausente. O gesto judaico de colocar uma pedra sobre o túmulo é, ao mesmo tempo, luto e promessa. Um marco de memória, mas também de permanência.
A Cabala nos ensina que a luz mais pura é aquela que emerge da escuridão — Or HaGanuz, a luz escondida. O luto, nesse sentido, não é apenas dor: é o espaço que se abre para a revelação. Quando as estruturas ruem, quando os muros caem e o templo é destruído, o espírito não se rende — ele se reconstrói. A sinagoga nasce da ruína do templo. O estudo, da ausência do sacerdócio. A escuta, do silêncio do exílio.
Essa lógica do recomeço é civilizacional. Após cada tragédia, o povo judeu não respondeu com ódio, mas com sabedoria. Não com destruição, mas com criação. Não com vingança, mas com ética. A educação tornou-se o verdadeiro templo. O livro, sua arca. O diálogo, seu culto. Essa atitude ressoa profundamente com a Cabala, que vê o mundo como um campo de fragmentos a serem restaurados. Cada recomeço é um ato de Tikun — reparação sagrada do mundo e da alma.
E é por isso que o amor — o amor verdadeiro, aquele que inclui a dor — está no centro de tudo. O mandamento “Ama o teu próximo como a ti mesmo” não é uma metáfora sentimental. É uma fórmula ontológica de sobrevivência espiritual. Amar é o único modo de transcender o trauma sem perpetuar a violência. É o único caminho para fazer da dor uma ponte — e não um abismo.
Quando falamos de reconstrução, falamos de um movimento que não nega as feridas, mas as inclui no gesto criador. E isso só é possível porque há uma luz que não se apaga. Uma luz que, mesmo exilada, permanece acesa em cada gesto de bondade, em cada palavra justa, em cada escolha que renuncia ao ódio para afirmar a dignidade da vida.
Do luto à luz: essa não é apenas a trajetória de um povo. É o mapa espiritual de toda alma que, ao tocar o fundo da perda, decide não se perder de si mesma. A travessia é longa. Mas é real. E cada passo é sustentado pela certeza de que recomeçar — com mãos feridas, sim — é também um modo de amar.
-
Conclusão – A Unidade Ferida e o Convite à Reconstrução
A humanidade é um corpo estilhaçado que anseia pela reintegração. Como na doutrina da Cabala, vivemos em um mundo posterior à Shevirat haKelim — a quebra dos vasos originais que deveriam conter a luz. Essa luz, dispersa em fragmentos, brilha agora como faíscas em meio às ruínas: nas culturas, nas religiões, nos mitos e nas consciências que ainda ousam amar.
Entretanto existe um povo — e, mais do que povo, uma alma coletiva — que, por incontáveis gerações, se recusa a apagar essa luz. O judaísmo não oferece à civilização um sistema fechado de crenças, tampouco um código de perfeição. Ele oferece uma alma que busca, um verbo que escuta, um caminho que retorna. O que o povo judeu ensina ao mundo não é o triunfo da pureza, mas a dignidade da persistência. Não a segurança da certeza, mas o compromisso com o eterno diálogo entre o humano e o divino.
A luz judaica não reside na rigidez de um dogma, mas na fidelidade à reconstrução. Reconstruir não é simplesmente refazer o que foi perdido. É transmutar a dor em ética, a queda em responsabilidade, o exílio em sabedoria. E esse é o ensinamento mais profundo que atravessa toda a tradição cabalística: o mundo não está pronto — ele precisa ser reparado. E essa reparação começa dentro de nós.
A sabedoria, portanto, não é acúmulo de dados, nem técnica de persuasão. É o retorno — não ao ponto de partida, mas à essência reencontrada. É Da’at, o conhecimento profundo que só pode emergir do entrelaçamento de misericórdia e rigor, de amor e justiça, de silêncio e escuta. É o centro vivo da Árvore da Vida, oculto e pulsante.
A unidade que buscamos não é uniformidade. É comunhão na diversidade. É o reconhecimento de que todo “outro” é um espelho do que falta em nós. A Cabala ensina que só ao acolher o que nos falta, completamos o que somos.
Este ensaio é, portanto, mais do que um texto: é um convite. Um convite à escuta profunda da tradição que sustentou o espírito diante do exílio. Um chamado à reconstrução ética da alma e do mundo. E uma lembrança de que, mesmo ferida, a unidade é possível — porque toda luz fragmentada deseja voltar ao seu Todo.
Que cada um de nós possa, à sua maneira, se tornar um pequeno vaso reparado. Um ponto de luz a mais no vasto mapa do Tikun Olam.
Epílogo – A Tenda de Abraão e a Origem Partilhada
Ao escrever este ensaio, carregava comigo uma convicção silenciosa, mas sempre presente: a de que, em alguma medida, somos todos herdeiros de Abraão. Pai de Isaac e Ismael, de Jacó e Esaú, de judeus, cristãos e muçulmanos — e, mais profundamente, de todos aqueles que se reconhecem como buscadores da verdade, da justiça e da unidade.
Porque há os que se dizem donos da verdade — e há os que a buscam com humildade. O legado de Abraão não pertence aos primeiros, mas aos segundos. Não aos que se endureceram na letra, mas aos que ainda escutam no silêncio.
A fé de Abraão não gerou apenas religiões. Gerou uma postura diante do mistério: a escuta. A capacidade de caminhar sem mapa, de acolher o desconhecido, de confiar que o invisível sustenta o visível. A tenda de Abraão, aberta em todos os lados, não foi construída para conter — mas para acolher. Não definia fronteiras: abria possibilidades. E cada viajante era visto como um mensageiro disfarçado.
Ser filho de Abraão, no sentido mais profundo, não é herdar um nome, mas uma atitude diante da existência.
É reconhecer no outro um fragmento da mesma promessa.
É saber que a aliança com o divino não se comprova por exclusão, mas por hospitalidade.
É assumir que a bênção recebida não exime — convoca.
Mas antes de estender essa tenda ao outro, é preciso reconstruir a própria morada interior.
Nenhum Tikun é autêntico se não começa no vaso que o carrega.
Não se muda o mundo sem antes curar a si mesmo.
Não se ensina o amor se o recipiente está rachado pela ira, pelo orgulho ou pelo ressentimento.
A luz não se sustenta sem um recipiente renovado.
E se a história feriu essa fraternidade, se os irmãos se dispersaram em disputas e muros, cabe a nós agora reconstruir a tenda — não com pedras, mas com escuta.
Cada gesto de justiça, cada palavra que reconcilia, cada silêncio que compreende, cada esforço de autossuperação — tudo isso é reconstrução. Tudo isso é Tikun.
No fim, a tenda de Abraão permanece. Invisível, talvez. Mas viva.
E todos os que ainda ousam amar sem precisar vencer, escutar sem precisar convencer, e buscar sem se declarar donos — esses, de algum modo, já estão dentro dela.
E já começaram, em si mesmos, a reconstruir o mundo.

Jorge Pinho

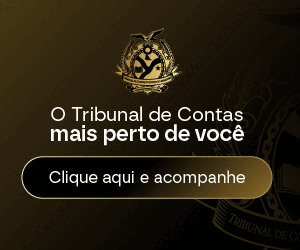


Deixe um comentário